Quando se compra uma passagem em cima da hora, vale de tudo para deixar a viagem a mais barata possível: contar com ajuda das milhas, aumentar o número de paradas, alterar datas de partida e chegada. Da última vez em que viajei para Berlim, em julho do ano passado, a solução encontrada foi aceitar paradas longuíssimas em alguns dos trechos escolhidos para voar. Apesar de não ser o stopover dos sonhos, essa situação deixou minha companheira Juliana e eu com uma dúvida a ser resolvida: o que fazer nas 12 horas em que ficaríamos em Washington D.C.?
Aterrissamos em 5 de julho, dia seguinte à celebração da independência estadunidense, e isso significa que a cidade estava de ressaca. Lojas fechadas, barricadas nas ruas, moradores e turistas dormindo até tarde. Assim, decidimos visitar o que não se fecha: praças e monumentos abertos ao público. Para dois negros de pele clara como nós, que estamos reconstruindo passo a passo nossos laços com a negritude, o memorial a Martin Luther King Jr. foi o escolhido.
Veja também: O que fazer em Washington DC: roteiro de dois dias
O motorista do Uber estranhou a escolha, apontando que a Casa Branca, o Monumento a Washington ou os memoriais de Abraham Lincoln e Thomas Jefferson eram opções mais populares. Engatamos uma conversa e, no caminho até a escultura, ele nos mostrou um prédio fantástico, com um exterior que parecia entalhado em bronze: o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana. Seguimos em frente e, depois de conhecer e tomar um pouco de chuva no memorial do Dr. King, decidimos voltar e entender se seria possível visitar o museu.

Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana (Foto: Alan Karchmer/Divulgação)
A visitação é gratuita e, apesar das entradas para o museu estarem esgotadas há meses, demos sorte. Para sanar o problema, o Smithsonian, órgão que administra o museu, havia criado dois horários, um pela manhã e outro à tarde, em que alguns tíquetes seriam distribuídos por ordem de chegada (existe uma pequena distribuição diária de passes para quem não conseguiu reservar antecipadamente). Perdemos a janela da manhã, mas decidirmos chegar uma hora antes da distribuição programada para a tarde e garantimos um lugar relativamente próximo ao início da fila.
Não poderíamos ter tomado uma decisão melhor.
O museu é incrível e tem mais de 30 mil objetos históricos, que vão desde grilhões escravagistas e itens do Partido dos Panteras Negras ao caixão de Emmett Till, jovem de 14 anos brutalmente assassinado no Mississipi, em 1955, cuja morte foi um dos catalisadores do movimento por Direitos Civis e o fim da segregação. Eu fiquei por 4h apenas no subsolo, dedicado à história antiga e mais recente (como a eleição de Barack Obama). A Juliana correu para conseguir também visitar o andar de cima, dedicado à cultura, em que histórias, telas e atrações interativas sobre jazz, blues e outras artes fazem sucesso com os visitantes mais jovens.
No entanto, a parte mais importante do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana não é nada do que está exposto ali dentro. E sim a própria existência dele.
Em tempos de #somostodosiguais, a existência de um lugar como esse é um marco necessário por si só.

Foto: Douglas Remley/Divulgação
Essa hashtag e iniciativas como a que ela representa são no mínimo ingênuas e, ainda que de forma passiva, violentas. Nós, seres humanos, não somos um só. Não temos sido tratados de forma equânime há séculos. Reduzir o tamanho dessa diferença é, necessariamente, invisibilizar dores e lutas centenárias. A lista é grande, mas basta dizer que nós, negros, somos mais assassinados, ganhamos menos, temos menos acesso à educação e somos mais visados pela polícia, como os dados mostram ano após ano, seja nos Estados Unidos ou no Brasil.
Mas, além das violências cotidianas e reiteradas, ainda sofremos com o apagamento do nosso passado. Você sabe de onde seus parentes europeus vieram? Massa. A gente não consegue saber nem se veio do Oeste, do Leste ou do Sul da África, muito menos a qual grupo étnico nossa gente pertenceu. Será que sou Iorubá? Nagô? Banto? No exterior, os avanços do Antigo Egito foram esbranquiçados e nomes como do filósofo Zera Yacob apagados. No Brasil, o que teríamos de informação, Rui Barbosa queimou junto com os registros da escravidão. A maioria de nós não tem passado, para além do que nos permitiram saber — herdando nome das famílias que tratavam nossos antepassados como propriedade.
Há tempos, os negros da diáspora vivem o desafio de retomar um passado cujos elos não conhecemos. E, nesse contexto, o museu ajuda a montar um quebra-cabeça cujas peças nos foram negadas.
Representatividade importa. Não é à toa que, inaugurado em 2016, após décadas de luta para transformar planos em realidade, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana está sempre lotado e tem um tempo de visitação médio de seis horas — contra 1,5 ou 2h dos demais museus nacionais do Smithsonian.
Foi um alento caminhar pelos corredores e ver negros e negras serem maioria em um espaço cultural, ao contrário do que vemos nos museus e espaços eruditos brasileiros (apesar de sermos 54% da população). Foi um alento ver que até mesmo a nossa história, que não somos norte-americanos, está representada por ali de diferentes maneiras. Foi um alento poder compartilhar dores e celebrar alegrias sem precisar dizer uma só palavra. Não estamos sozinhos.
A sensação parece indescritível, mas não resisto à tentação de tentar descrevê-la em uma só palavra: ubuntu. Eu sou, porque você é.
Que mais conexões sejam estabelecidas, que mais histórias sejam contadas e que mais destinos negros, cheios de significados para a negritude, continuem a aparecer mundo afora.
Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana: Informações para visita
Entrada: gratuita, mas é preciso reservar ou retirar os tíquetes
St. and Constitution Ave., NW | Washington, DC
Abre todos os dias, entre 10h e 17h30
Site: nmaahc.si.edu
*Imagem destacada: Douglas Remley/Divulgação
Inscreva-se na nossa newsletter





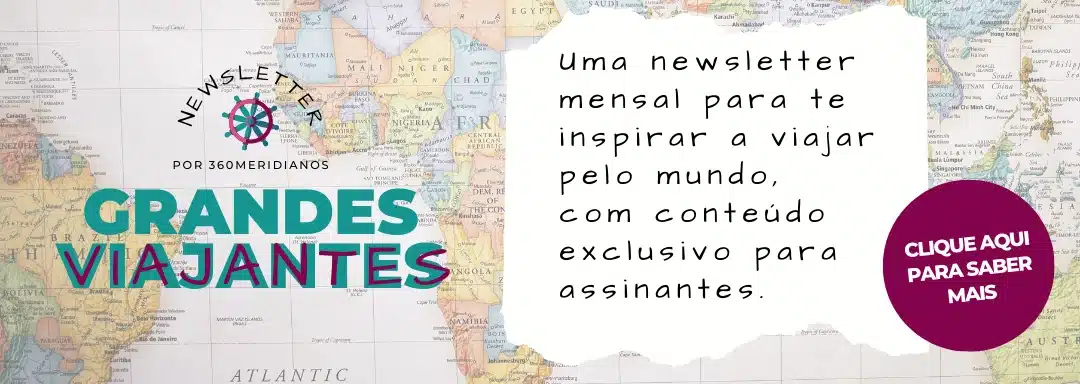
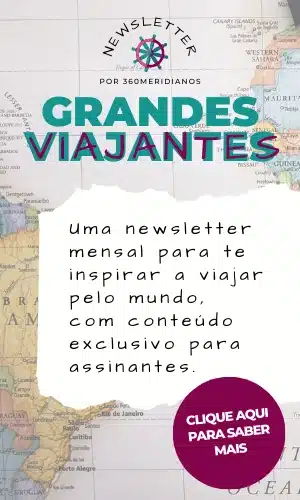

Não por acaso não se fala sobre este fantástico museu! Obrigada Ismael pela fantástica dica! Conhecerei, com certeza!
Moro aqui em DC e simplesmente AMO este museu. Juntamente com o Museu do Índio Americano são os meus favoritos no National Mall. Já fui 3 vezes e sempre tenho a sensação de que não gastei tempo o suficiente lá dentro para ver tudo. Porém como moradora vejo que brancos não dão muita importância a este local como deveriam. Todas as vezes que visito tanto o museu com o memorial ao Martin Luther King, os brancos que estão por lá ou são turistas estrangeiros ou são casados com algum afro descendente. Se voltar a DC recomendo que vocês dêem uma volta pelo corredor da U Street onde as manifestações do movimento Civil Rights ocorreram.
Obrigado pelo comentário, Erica! Quero voltar assim que puder, e vou colocar o Museu do Índio Americano na minha lista também, então :).
Tive essa mesma impressão que você sobre a questão dos brancos. Acho uma pena, mas ao mesmo tempo gosto de ter um lugar como esse, um museu não eurocêntrico, em que somos maioria! Tomara que as coisas caminhem e cada vez mais gente se interesse.
Que post fantástico
Parabéns Ismael pelo o que escreveu e pessoa do 360 por publicar textos assim
É muito bom ler textos interessantes como esse (e os sobre representatividade LGBT) e que são políticos no melhor, e real, sentido da palavra
Nunca tinha ouvido falar do museu e, com certeza, visitarei
Feliz que viu sentido no post, Rodolfo! Estou bem feliz por ter a chance de escrever sobre temas como esse, e Naty, Lu e Rafa têm sido incríveis em proporcionar essa oportunidade e essa liberdade.
Certeza que você vai adorar o museu! Quando for, conte para a gente o que achou 🙂